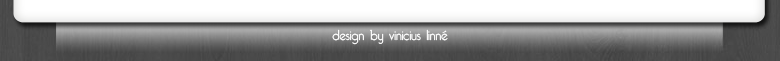Primeiro Clarissa amanheceu os olhos. O traçado grosso do lápis sumiu um dia. E suas íris ganharam, então, um ar mais azul. Depois foram os lábios que empalideceram. De vermelho tornaram-se rosa-aurora. Depois, foram as frases que perderam muito de sua força, mas também muito de seus palavrões. Clarissa amanhecia inteira.
Depois foram os dentes que surgiram, não em rosnares, mas em risos. Risos leves. As roupas ganharam flores miúdas e o cabelo voltou ao seu loiro natural. Ela inteira tornava-se dia, entre a própria surpresa e desconfiança.
O mais difícil, ela percebia, era livrar-se das próprias convicções. Era afastar-se da imagem antes criada. Era ser boa e deixar que a vissem boa. Antes, má, Clarissa achava-se especial de alguma forma. Ela era singular e fazia-se respeitar por isso. Agora ela era uma mancha pálida.
A princípio era assim que se via, como uma mancha pálida. Depois, porém, notou que não era uma mancha. Era um ponto. E não era pálida, era brilhante. Um sol em uma tarde de verão. Logo ela que sempre quisera ser lua em noite de tempestade.
Clarissa sempre despreza seu lado mais luminoso. E, agora percebia, era esse o seu melhor lado. Era brilhar o seu destino mais íntimo. Não na solidão escura, mas no dia claro. Não à margem das nuvens, mas no céu azul. Azul da cor redescoberta de seus olhos.
Não havia motivo para as lágrimas de antes, assim como não havia motivo para o sorriso de agora. Mas que brotasse, mesmo assim, mesmo sem motivo. O motivo Clarissa inventaria e ele teria o mesmo tom do canto das cigarras.
Clarissa conhecia uma história sobre o canto das cigarras. Não aquela da formiga. Clarissa não queria fábulas e suas morais. Ela conhecia outra, mais bonita.
Aquela de um homem, um escritor, que recolheu-se à montanha para encontrar a paz certa de escrever. Era verão e no princípio tudo parecia perfeito. Não era. Havia o canto das cigarras. Embora dito assim pareça idílico, ouvido incessantemente é enlouquecedor.
As cigarras não suspendiam por um segundo o canto estridente e o escritor parecia não mais aguentar. Até que ele mesmo decidiu ser uma cigarra. Transmutar-se em uma, ficionalizar-se. Criou, então, um conto muito longo e muito belo sob o ponto de vista de uma cigarra.
Aquele canto que aos homens incomodava era, para a cigarra, a própria Clair de lune. Era uma canção que falava de amor e louvava a vida. Louvava o verão e o calor que lhe permitira escapar da escuridão profunda da terra. Era um canto de celebração que só duraria enquanto a vida durasse.
Quando o homem terminou seu conto, não ouvia mais o canto da cigarra. Ouvia a música.
Clarissa precisava disso também. Não da tristeza retumbante e profunda que lhe garantia um certo charme, acompanhado da vontade de cortar os pulsos. Ela precisava dessa alegria que, a princípio, incomodava tanto quanto o canto das cigarras. Ela precisava achar sentido em ser feliz. Viciar-se na felicidade assim como fora, algum dia, viciada na amargura.
No momento em que o fizesse, sua felicidade não seria mais estranhamento. Seria só natural. Natural como a luz do sol. Natural como seria natural uma Clarissa ser clara, ser solar.