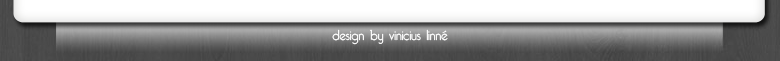"Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante"
Antoine de Saint-Exupéry
De cor intensa, insana e rara. Assim era a orquídea que a jardineira por anos tentou criar. Até chegar àquela flor, houve um sem fim de amostras, enxertos, mudas cálidas e fracassos.
Quando, porém, o botão tão aguardado se abriu e revelou um esplendor sem tamanho, a jardineira teve certeza de que aquela flor valera cada esperança enterrada.
A felicidade foi tanta e a liberação de tensões tão imensa, que a pobre jardineira não soube o que primeiro fazer: se tirar logo uma nova muda, se chamar as revistas especializadas, se avisar ao clube de orquidófilos, se chamar a imprensa toda, se ligar para sua mãe e contar o feito de uma vida...
Entre tantas urgências, olhando para sua criação suprema, decidiu igualar-se a Deus. Descansaria, isso sim, como fizera Ele no sétimo dia.
Deitada sobre a esperança satisfeita, coberta das glórias vindouras e docemente embalada pelo peito a compassar de alegria, a jardineira caiu em um sono profundo. Sono que durou quase todo o inverno.
Enquanto isso, no jardim suspenso da estufa, a orquídea sentia a solidão de tudo aquilo que é criado, mas não é cultivado. Ela teve sede, mas ninguém lhe deu água. Ela viu, em desespero, aninharem-se nas suas folhas larvas e lagartas pequenas, e ninguém veio tirá-las. Ela acompanhou o sol forte do meio dia a esmaecer-lhe a cor, mas ninguém colocou-a na sombra...
Por fim, durante várias das últimas noites, entrou na estufa a geada. Filha do frio e da noite, com sua conversa úmida e seus elogios sem fim, convenceu a orquídea de que se deixasse lamber por ela. E assim se fez.
Havia no quarto a primeira luz da primavera quando, finalmente, a jardineira acordou. O peito ainda era quente do orgulho e da beleza que sua máxima orquídea lhe deu. Tratou então, depressa, de chamar os fotógrafos, os orquidófilos e os artistas todos que jamais, nem em sonho, criariam cores tão belas quanto aquelas da sua flor.
Aprontou-se toda, vestiu-se de festa e esperou por eles à porta, chá de verbena na mão. Chegaram muitos. Uns ansiosos, outros ciumentos, mas todos deslumbrados com a ideia de verem a mais bela de todas as orquídeas. Quando a excitação do ar já fazia tremelicar as janelas do apartamento, a jardineira levou-os até a estufa.
Flashes ansiosos espocaram na nitidez da tarde. A jardineira, orgulhosa que só, permanecia de costas para a estufa, braço estendido, como se apresentasse um grande espetáculo de teatro.
Caras feias e murmúrios. Até que alguém do jornal perguntou mais alto do que deveria: E a tal orquídea, cadê? Quando a jardineira virou-se, pronta para dar a resposta óbvia, deparou-se com o vaso de barro quase vazio, ornado apenas pelas poucas folhinhas secas de uma flor há muito morta.