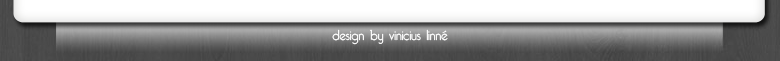É porque no fundo a única responsabilidade que você tem é com a sua própria vida. E eu abro mão desse fardo com relativa facilidade. E também com relativa facilidade assumo a carga que é alheia. É trauma, eu explico.
Hoje uma menina faz aniversário. E eu não sei como ela está, ou onde. Eu dei a ela um parabéns constrangido, recolhido, envergonhado, via uma rede social qualquer. E eu disse a ela que esperava que ela estivesse feliz. Do fundo do meu peito, eu esperava – mas isso não disse.
É bem patético. Ou comum até, mas eu me sinto responsável por ela. Ainda hoje. Tudo por um ato – ou a falta de um ato – meu. Estávamos ainda no primeiro grau quando a vida dela mudou. Por minha causa.
Não completamente, eu sei. Agora eu sei que tudo não se resume à minha ação, mas a conjunto de consequências. Por muitos, muitos anos, porém, eu acreditei que devia a ela cada felicidade que pudesse ter-lhe tirado com aquilo que fiz.
De manhã não tivemos aula naquele dia. Intersérie. De tarde ela estava escalada para um dos jogos, no time de vôlei. Éramos, é importante dizer, os párias da turma. Ela, outra menina, e eu. Ela por ser pobre foi discriminada desde pequena. A outra menina por ser frágil e ingênua. Eu por opção.
É estranho dizer isso, mas de cedo eu vi que não podia fazer parte da alienada maioria que chamava uma de piolhenta e a outra de burra. Eu troquei as festas a que era convidado pela solidão nos livros, as brincadeiras na hora do recreio pelo esconderijo da biblioteca, as tardes de encontros pelas tardes de risadas com aquelas duas.
Eu passei em algum ponto, conscientemente, para o lado dos que ninguém queria. E não me importava com isso. Como se desde pequeno eu entendesse que eu me bastava. Que pela vida afora eu precisaria desfazer laços e ficar do outro lado do risco.
Era meio-dia quando voltamos, a outra amiga e eu, para casa com a promessa de que sim, à tarde iríamos até o ginásio, mesmo livres da obrigação, para fazermos companhia a ela.
Não fomos.
E porque não fomos, eu não posso contar o que lhe aconteceu. A menos que eu traduza as consequências. A menos que eu diga que naquela tarde as outras meninas, todas bonitinhas e fabulosamente nascidas, a impeliram a ficar com um menino.
Foi a primeira vez. E ela só se deixou levar porque não estávamos lá.
O primeiro beijo. E por que ele seria um desastre assim? Pelas consequências. Se estivéssemos lá, eu e a outra amiga, teríamos dado risadas a tarde toda. Teríamos comido alguma bobagem, bebido uma coca-cola e depois iríamos para casa, com a vida toda normal.
Chegaria sim o dia do primeiro beijo. Quando ela estivesse toda pronta. Quando ela decidisse que era a hora. Quando aparecesse um menino com quem valeira à pena. Não assim. Não empurrada pelo gozo das outras meninas. Não com alguém cujo nome ela nem sabia. Não para fazer parte delas.
Mas foi. E isso eu não podia mudar. E no dia seguinte a culpa já caia em mim. Ela era diferente. Ela provou do mel / fel daquelas meninas. E queria mais.
Não era conosco que sentava. Era com elas, que aceitavam como se fosse uma iniciada nas tramas mais baixas da casta. Não a viam como igual. Jamais a veriam. Mas agora podiam divertir-se com ela. E o fizeram.
Foi ali que ela mudou. Não era mais a aluna brilhante e tímida. Era vulgar. Ficava com quem aparecesse, sempre tutelada pelas risadas de incentivo e nojo e escárnio das meninas bonitinhas.
Até que elas se cansaram. E a deixaram como se deixa um animalzinho que já não diverte mais. E já não havia mais volta possível. Ela olhava para nós com um misto de saudade e condenação. Eu olhava para ela com uma culpa imensa. E a culpa forma abismos. Abismos que nenhum de nós jamais ousou passar.
Ela encontrou abrigo no que se costumam chamar de “más companhias”. Beijos na boca, sexo talvez, drogas possivelmente. E tudo por aquela tarde. Aquela tarde em que eu preferi ficar pintando coisas dignas dos elogios da professora de Artes. E que a outra amiga preferiu ficar vendo sessão da tarde no sofá de casa. E tudo mudou. E tudo aconteceu e se modificou.
E hoje, que é aniversário dela, eu voltei a me perguntar até que ponto eu a fiz infeliz. Porque é infelicidade o que reverbera naqueles olhos da foto. Olhos velhos, de olheiras fundas e cílios pretos. Infelicidade nos cabelos retos e na boca dura que não dá sinais de saber sorrir.
Se pudesse falar com ela, perguntaria se ela me culpa por tudo. Se foi tudo tão ruim assim a partir dali. Ou se ela encontrou um jeito melhor do que o nosso de se fazer feliz. Eu queria saber se ela me agradece ou condena por aquele dia. Ou melhor, se ela sequer tem noção do que representou aquele dia, do que mudou, do que aconteceu a partir dali.
Agora eu posso dizer que assumi demais a responsabilidade por ela. Que ela fez o que precisava e o que queria fazer. Que é um erro tentar poupar os outros deles mesmos. Que não se deve proteger alguém daquilo que esse alguém quer. Eu posso me repetir isso que aprendi. Posso. Posso dizer até ficar rouco e cansado. Mas não sei se posso me convencer. Porque em algum ponto eu sou o menino que não foi. E ela, a menina que ficou, imensamente sozinha naquele ginásio tão grande.