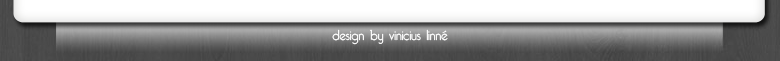É engraçado perceber que no quase começo de dois mil e ouse eu fiz uma promessa. Uma promessinha só: a de voltar a reclamar no fim desse ano. Mas não posso. Mesmo. Sou mais fiel a mim do que às minhas promessas. Preciso ser, de outra forma eu soaria de uma incoerência sem tamanho. E da incoerência eu tenho medo.
Pois bem, lá estava eu nos píncaros de dois mil é dez comparando o final do ano ao trabalho de Sísifo [se não lembra, é só clicar]. E eu não estava de todo errado. Vieram os mesmos meses, os mesmos feriados, tudo de novo; mas tudo tão novo, ao mesmo tempo.
A pedra rolou sim. Eu me esforcei [e bastante] para trazê-la morro acima de novo. Mas aí está ela. Mais redonda, mais polida, mais bem talhada. O esforço, meus amigos, não é, enfim, em vão.
Dois mil e ouse, custa-me admitir, foi um ano bom. Um ano em que o saldo de sorrisos, descobertas, realizações e inspirações foi positivo. Sim, eu caí algumas boas vezes, mas os arranhões foram superficiais, enquanto que os risos foram profundos.
Nesse ano eu descobri algumas paixões, como a de ensinar, por exemplo. Desteci alguns traumas há muito tempo bordados. Reconheci alguns erros e fui reconhecido pelos meus acertos.
Dois mil e ouse me trouxe muitas certezas. Embora as certezas sejam tão perigosas quanto as incoerências. Uma das certezas é de que não me importa realmente a opinião dos outros. Elogios te deixam mais assertivo, é verdade, mas as críticas não te derrubam. Aprendi que pouca coisa pode te machucar realmente. Aprendi que amores morrem e nascem da mesma misteriosa e mágica forma.
Aprendi a valorizar quem me ama de verdade. Quem acorda mais cedo só para poder ainda me ver dormir. E que depois fala da cor de mel dos meus olhos, do desenho traçado dos meus lábios e de outras partes já quase impublicáveis.
Aprendi a cultivar paixões e a viver por elas. Aprendi a escrever mais e melhor e por outros caminhos. Aprendi a fotografar outras vidas. Aprendi a sempre dizer o que penso, doa a quem quiser se doer. Aprendi a me posicionar. A manter amizades bonitas, a estreitar amizades sinceras e a descartar as biodesagradáveis.
Aprendi a não me cobrar tanto, a relaxar e a beber cerveja. Em dois mil e ouse eu aprendi a relevar, a não me perturbar por coisa pouca, a não perder o prumo frágil e a ter um pouquinho – bem pouquinho – mais de paciência. Aprendi a aproveitar as oportunidades e ampliar minha até então restrita zona de conforto.
No ano que passa eu ousei me aceitar. Ousei acreditar e assumir meus defeitos e minhas qualidades. Ousei ser eu mesmo em um mundo cada vez mais massificante.
E paguei o preço.
E não achei caro.
Enfim, dois mil e ouse foi mesmo um ano de aprender e um ano de ousar. Agora já é ano novo, de novo. E não desejo muito do futuro. Só desejo que ele cumpra sua promessa de ser doce.
É, feliz dois mil e doce para todos vocês.
E obrigado por continuarem comigo.
sexta-feira, 30 de dezembro de 2011
quinta-feira, 22 de dezembro de 2011
segunda-feira, 19 de dezembro de 2011
Post Confuso de um duelístico surreal
Tua vaidade se acaricia
nos pelos das minhas pernas
e cada elogio teu arrepia
toda pele do meu púbis
Olho para os números e os números me dizem coisas. Como se fossem letras. O número baixo de postagens desse mês significa que.
Agora perco a reflexão. Vou em outros lugares, ler outras coisas.
O homem de terno cinza, gravata cinza, chapéu cinza e guarda-chuva está em frente às paredes – e são muitas paredes, como prédios, mas sem janelas, só entradas, portas entalhadas na pedra, vãos escuros. Ele olha os cartazes das paredes. Desbotados, coloridos de amarelo, ocre e laranja. Cores que um dia, quem sabe, foram vermelhos e púrpuras e azuis e grenás. O céu é azul-esbranquiçado. O sol está a pino, como em um meio-dia. Só que são quatro horas da tarde. Ninguém diz, não há relógios, mas são quatro horas da tarde e o homem olha cartazes. Às vezes com fingida atenção, outras com aquela indiferença. Como se o trabalho do homem fosse olhar os cartazes. Ou como se ele os olhasse e pensasse nos cartazes que ele mesmo já não faz.
Leio outros textos e alguns me empolgam a ponto de eu erguer os olhos. Para outros eu fecho e passo a entender o porquê de todos os manuais de instrução pregam o anti-semitismo dos adjetivos. “Ele é de escorpião. Insuportavelmente sexy e apaixonadamente sério.” Quase vomito os pedaços de melancia que antes devorei com luxuriosa gula, lambendo os dedos, as sementes e as facas; Sempre pensando nas uvas verdes.
Nunca coma uvas com melancias, dizia Ághata. Meu avô, lá na Inglaterra, abriu um cantinho de melancia e colocou dentro bagos de uva. A melancia empedrou inteira. Inteirinha. E ficou roxa. Horrível de se ver.
O homem ainda olha cartazes. De repente batidas de sino. Como dando as horas, no relógio que não há. Ele olha para o pulso, sem relógio também, prepara-se, dá mais alguns passos e empedra. Todo em sulcos e veias em tons de roxo e melancia, inchando bem o pescoço e cuspindo caroços.
Leio elogios e escrevo um poema. Eu todo de vaidade intumescida e latejante. Mais alguns elogios eu poderia fazer brotar um texto inteiro. Um texto descente, daqueles que dizem o que esperam que a gente diga.
Tipo um texto que falasse coisas sobre amores e rejeições. Sempre há amores e rejeições. E o rejeitado sempre diz coisas como se quem perdesse fosse o rejeitador. Não perde nada. Se você quer saber, a dor de cotovelo morde o mundo. E eu escreveria sobre dor de cotovelo sem tê-la, só porque dá audiência. Coisa que não dá mensagens assim, como essa, sobre uvas e pedras e melancias.
E em todo lugar aquele homem vira pedra e as pedras racham e os cartazes velhos rasgam e tudo vem abaixo em poeira cinza. Sobra só o guarda-chuva. Ou melhor, sobram só as varetas do guarda-chuva. E o tempo passa, acelerado como nos filmes. Dias e noites e noites e dias e mais rápido assim: diasenoitesenoitesedias até não se poder mais ver: dinoitestdiesdasoitedis. E tudo pára. E das cinzas do chão nasce um broto verde, folha por folha. E outro lá e outro ali e outro lá longe, até tudo ser uma ramagem verde abaixo do sol que amanhece. E de repente os frutos. Pelo chão, em ramas selvagens, uvas e melancias. Melancias rachando de tão maduras – sem que ninguém as coma. E a explosão de vida roxa e vermelha e verde. Divina. E o trinado das moscas no suco das frutas. E os vermes corroendo as polpas coloridas e as melancias encontrando-se com as uvas e tudo virando pedra. E os vermes virando homens. E os homens pintando cartazes. E os cartazes desbotando. E o homem consertando as varetas do guarda-chuva. Tempo, tempo, tempo. E eis o homem de terno cinza, gravata cinza, chapéu cinza e guarda-chuva.
Termino tudo e penso no que não disse sobre números. Paciência. Não há o que dizer, porque os números que eu via já desbotam a ponto de eu não saber mais diferenciá-los. E as uvas ficam tão roxas quanto são as melancias vermelhas. E eu já sinto na boca outro gosto. Outro doce. E não importa mais se não vai chover. O amanhã nascerá amarelo. Sim, no amanhã haverá manga com leite.
quinta-feira, 8 de dezembro de 2011
A flor de cookies
É 8 de dezembro, faz 27 graus e há 3 dias eu acordo com 24 anos. Não gosto do número. Detesto todo número que é par. O 25 do ano que vem também não me agrada. É natal demais. O 26 será novamente par. Isso significa que só estarei de acordo novamente quando estiver com 27 anos. Espera-se então.
Eu saio na rua e a rua é quente. As nuvens tratam de abafar o dia. Passo pela cidade, eles me olham e falam meu nome, descaradamente. Vou em um banco para tirar dinheiro e depositar no outro. Quando chego no outro, me avisam que há quantia suficiente para eu pagar meu boleto. Mas como? Depositaram para você. Hoje de manhã.
Fico sem saber o que fazer do dinheiro do primeiro banco. Desperdício de tempo e caminho. Logo agora que eu vivo o estritamente necessário. Logo agora que todo excesso é sumariamente evitado ou descartado.
Sorrio educado para a moça do caixa e desisto do depósito. Amanhã eu volto ao banco primeiro e deposito de volta. Um inferno.
Vou à padaria e os cookies são frescos. Preciso comprá-los para encher um pote. Ághata me ensinou: nunca se devolve um pote vazio. Superstição? Não, educação, gentileza, sensibilidade, esses toques tão frescos quanto os cookies que eu teimo em reproduzir com rigor.
Olho para Clarice Lispector. O tempo todo estive de mãos dadas com ela. Vou para devolvê-la, mas é outro desperdício. A casa não abriu ainda. Olho de novo para ela. Vire-se, ela me diz, carregando bem o erre e soprando-me fumaça azul na cara. Estou atrasado em devolvê-la, mesmo sem tê-la aproveitado. É que não me foi necessária a luz do Lustre. E vivo hoje, como disse, o necessário apenas.
Trago Clarice de volta para casa. Agora precisarei de mais dinheiro quando eu for devolvê-la, para que a aceitem. Como um resgate, só que ao contrário. Pago para que a aceitem. E pago para que me perdoem.
Entro na casa e tiro a roupa toda. Como se nela estivesse grudado o calor. Não está. O calor vem do ar e parece que não choverá nunca mais. Tomo um banho, coloco outra roupa, tento ler alguma coisa. Não consigo. Tento corrigir algum trabalho. Não consigo. Tento preparar a aula de amanhã. Não consigo. Tento dormir. Não consigo. Tento fotografar. Não consigo.
Só o necessário, relembro.
Vou à cozinha e não derramo os cookies no pote que vou devolver. Os arranjo de tal forma que façam a figura de uma flor. Ninguém vai perceber, eu sei. Mas Ághata me ensinou que é assim que se fazem todas as coisas. Vivo o necessário. E a flor de cookies é necessária. Vital até.
sábado, 3 de dezembro de 2011
Das lições como as de Bree Van De Kamp
Depois do último surto, ela voltou para casa com o que seria seu mais novo e belo e encantador normal. A partir da volta, seu bom dia tornou-se esfusiante, quase agudo. Ela passava o dia a cantarolar pela casa, enquanto fazia bolos de baunilha, tortas de amora e cookies de chocolate.
A roupa ela passou a perfumar com amaciante e a passar à ferro com cuidado, além de dobrar e colocar em seu lugar mais corretos. Os móveis brilhavam, só não mais que os copos de cristal. Tudo nela era sorriso e bondade e generosidade, depois do último surto.
As facas velhas, que por precaução continuavam escondidas, ela substitiu por novas. Todas com cabos decorados, lindas. Sobre a mesa da sala, sempre havia um buquê de perfumados lírios.
Não se ouviu uma reclamação, uma grosseria, um grito sequer, depois do último surto. Tudo nela era delicadeza e carinho e docilidade amestrada. O marido e os filhos estranharam, é verdade, mas agradeciam a deus todas as noite pelo que ela havia se tornado.
Depois do último surto, ela visitava com frequência os vizinhos e tinha amigos, até. Levava para eles um sorriso e doces em cestas com fitas. Fazia favores a quem pedisse e estava sempre disposta a ajudar mais alguém. A doar qualquer coisa para a caridade. A contribuir voluntariamente em o que quer que fosse. Prestativa ela ficou.
A vida passou a ser maravilhosa naquela casa, depois do último surto. Tudo se encaixava e tudo brilhava como na mais perfeita tarde de primavera.
O que ninguém sabia. O que ninguém se preocupava em saber. O que ninguém descofiava era de que, por baixo de tudo, ela voltou com um plano, depois do último surto.
quarta-feira, 30 de novembro de 2011
O menor lado do triângulo escaleno
Chego tarde, acendo outro cigarro e fumo na janela, enquanto você não está. Tem sido assim agora. Eu venho para tua casa para ficar sozinho. Os carros passam já sem profusão, as crianças quase não gritam e as mulheres poucas andam armadas pelas sacolas. Na praça, cachorros coçam uns aos outros em ritual pagão.
Tua casa respira pelos pêlos no nariz da velha. Ela sentada me observa como se eu fosse um invasor. Mas ela só me olha assim enquanto você não está. Assim que você entrar pela porta, a velha volta seu humilde natural. O que me fere mais. A humildade me dilacera pela pena que eu não tenho.
Não posso ter. É pela velha que você não vem. A velha te impulsiona para fora daqui e de mim. Eu sei. Você ainda não sabe, mas eu já sei. As linhas, os bordados as costuras que você fica até tarde a comprar. As pílulas, as gotas, os analgésicos que você começou a tomar. Tudo coisa da velha. Ela te sussurra essas coisas no peito, quando ninguém mais escuta.
Anoitece, e então eu venho. Venho e fico sozinho. Ou venho e vejo você ser da velha, enquanto eu só estou, sem pertencer.
Agora eu fumo. Fumo e minha fumaça incomoda a velha, eu sei. A fumaça azul irrita a textura vermelha dela. Não faço de propósito. Faço de nervoso que fico. Qualquer hora ela me dilacera. Minha vontade era a de não vir mais. Não ficar esperando na casa que tem o cheiro dela. Não esperar até seus poucos segundos de atenção, antes que você se volte – de novo – toda pra ela.
Sinto-me sem ser. Ela não me deixa lugar na casa. Ela ocupa tua parede inteira, porta à porta. O que me sobra são as migalhas tuas que ela derruba. Minutos entre teu limpar da baba dela e criar da tua própria, já no sono pesado.
Então eu existo para isso? Para os minutos que caem sujos das sobras da velha? Eu existo para você me ver entre o fazer das coisas e o desfazer do sono? Penso nisso quando você entra, carregada de sacolas.
Beija-me rápida, coloca tudo nos lugares, corre pelos cômodos todos, azula tudo com tua presença sem força, com teu rosto sem marca, com tua cara vazia. Quando lembra de mim já é tarde. Bem tarde.
Da janela já só se vêem as prostitutas. Você pergunta sem interesse pelo meu dia. Que quem sabe foi quente. Eu respondo qualquer coisa e penso nos filhos que já não vamos ter – falta espaço na casa.
Você sorri e eu sei que é para a velha. Agora ela toda é humildade e compaixão e carinho. Já escondeu sob o peito a voracidade com que te devora. Protocolar, você pergunta se tenho fome. Digo que não. Pergunta se tenho sono. Digo que não. Deveria perguntar se tenho sentido. E eu responderia que não.
Até eu apagar o cigarro você já dormiu. Meus olhos se abrem no escuro e viram abismos. E eu já não sei mais o que eu faço aqui sozinho. Tenho ímpetos de levantar, vestir minhas calças e sair dessa casa. Mas tenho medo de fazer isso. Medo do mal que pode te fazer a velha. Pintada assim, na tela de Marc Chagall.
_________________________
Conto inspirado em Lídia e o Rabino do - e custa-me dizer isso, depois que o conheci na Jornada - Charles Kiefer.
_________________________
Conto inspirado em Lídia e o Rabino do - e custa-me dizer isso, depois que o conheci na Jornada - Charles Kiefer.
terça-feira, 29 de novembro de 2011
sábado, 26 de novembro de 2011
Réquiem para Shana Maria Cristina.
Eu queria ligar pra alguém. Eu queria te dizer alguma coisa. Eu queria, mais do que tudo, ter feito um último afago no teu focinho marrom. Mas não consigo fazer nada disso. Assim como não consigo ainda chorar. Estou tão corroído por dentro, meu amor, que não consigo chorar. E é também porque se eu começasse a chorar por ti, eu não conseguiria parar. Viriam as lágrimas também por mim e aí tudo estaria perdido. Se a primeira gota escorre, eu me afogaria e morreria. Como tu. Bem igual, meu benzinho.
Teu cheiro de nova eu ainda lembro, teu corpo todo preto, sem marca nenhuma, tua boca faminta de leite a beber de uma outra que já era minha. A rejeição, tua volta pra casa, por um tempo, me diziam, por um tempo. E foi. Quando te encontrei de novo já tinhas as manchas brancas nas patas e no peito. O desenhado marrom na fuça e nas sobrancelhas e o porte elegante do que me pertenceria.
Eu te ninei e brinquei e corri e pulei na grama verde. Foram nossos anos melhores, não foram? Eu ri dos teus emburramentos, da tua personalidade minha, das tuas graças e dos teus acidentes de percurso. Eu te vi chorar, meu amor. E tu me viste chorar, meu amor. E eu te chamei quando ninguém mais havia. E tu vieste. Sempre. Sempre atendendo ao meu chamado. Sempre fazendo festa quando eu voltava pra ti.
E agora se foi tudo. Todos os amores me abandonaram. O gato preto primeiro, que eu achava tão meu. Depois aquele que cresceu comigo. E agora tu. Por pura injustiça eu fiquei sem ninguém. Ninguém, meu amor. Como tu podes me deixar sem ninguém?
Agora, eu sinto, meus olhos já se molham. Minha cabeça pesa. Minha casa inteira reclama tua falta. Nunca mais o latido forte. Nunca mais os arranhões na porta do quarto – que eu nem sempre abri. Nunca mais a alegria teimosa de me ver. Nunca mais tua cara pensante no vento lá fora. Nunca mais o passeio de carro enquanto a tarde entardecia.
Que faço de mim sem amor, meu amor? De repente eu fiquei bem bem sozinho. Ninguém para esperar por mim. Ninguém para um carinho apressado. Ninguém com quem repartir uma bala de goma.
E me escorre de cada olho uma lágrima. Já posso chorar. Mas não deveria. Não queria. Escorrem duas juntas. Uma por mim. Outra por ti. Eu queria te ouvir voltar, meu bem. De tamancos russos fazendo tec-tec-tec na madeira do quarto. Queria ouvir teu sopro de desagrado, teu choro por querer visitar nossa avó.
Não mais.
Tudo me vai sendo tirado, como se testassem até que ponto eu aguento – sem morte – a solidão. Quão fundo a pessoa pode ir sem despedaçar pela própria dor. E a novidade é que eu já não aguento mais. Eu já não consigo me recompor e me arrastar vivendo em cacos.
Tu, rainha bonita que era, não me deixarias desistir. Diria com tuas bolitas de amêndoas: por mim. Mais um pouco por mim. Mas agora não tenho tua voz para me segurar, teu cheiro para me embalar, teus olhos para me olharem com o máximo amor.
E teu último pensamento não foi deus. Fui eu. E onde eu coloco a dor de te ver morrer se já não há lugar pra mais dor dentro de mim? Eu não sei o que fazer, meu amor. Eu não sei como chorar mais e me esvaziar um pouco. Eu não sei como te chamar e fazer com que tu venhas.
E se eu assobiar daquele jeito mais uma vez? Tu virás correndo e contente ver o que eu quero? Se eu tentar tu voltas, mesmo dos mortos pra me olhar mais uma vez? Não volta, meu bem? Mas não volta por quê?
sexta-feira, 25 de novembro de 2011
Os nomes
Substantivos e adjetivos são modos de chamar e qualificar as coisas e as pessoas. Isso é o que eu ensino para as minhas crianças.
Nomear algo ou alguém é o mesmo que possuir esse algo ou alguém. Isso é o que eu li enquanto fazia minha dissertação.
Palavras. Eu sou cheio delas, todo completo por elas, não sou?
Mas quero falar das palavras que me dão, sem que eu as tenha pedido.
Substantivos, adjetivos, nomes [feios]. Já me chamaram de tanta coisa, sabe?! De antipático, arrogante, falso, chato, estranho. De poeta, louco, escritor, maldito e anjo. Já me disseram que sou simpático, carinhoso, talentoso, educado e sensível. Como também já incluíram na lista que me nomeia irresponsável, desorganizado e incompetente. É. Nunca falta quem nos chame de alguma coisa, quem tente nos definir para nos dominar de algum jeito.
Já me chamaram de amigo, de irmão, de filho e de pai. Já me chamaram de senhor, professor, mestre, doutor e homenzarrão. Já me chamaram de gatinho, de feio e de gordo. E de Thiago Lacerda [hehehe]. Já disseram que sou autoritário, submisso, depressivo, feliz demais, frio, chorão, triste, depressivo e insensível. São contraditórios os nomes, eu sei. A culpa seria minha, que vario tanto, ou das pessoas que não se encontram?
Já me chamaram de sagitariano, de cincodezembrista e de leitor. Já me fizeram neurótico, cínico, infantil, maduro e debochado. Míope, cego, surdo, desastrado, estabanado, ansioso, calmo, cuidadoso, neto e afiliado [de loucos]. Já me chamaram de adotado, de mal-educado e de tinhoso.
Meu Deus. Para cada palavra que escrevo nascem três outras novas. E a lista, percebo, é infinita. Já fui chamado de quase tudo e quase tantas vezes a ponto de me acostumar até a não ser.
Já me chamaram de muito, é verdade, mas só uma pessoa me chamou de amor.
Você.
E porque você um dia escolheu me chamar de amor, eu posso dizer que hoje sou uma pessoa melhor. Pelo teu exemplo. Você me fez crescer e pertencer de um jeito que eu nunca imaginaria.
A tua força é hoje a minha.
Eu admiro muito tua organização, tua dedicação, teu jeito todo borboleta de cuidar de mim. Eu não conheço ninguém mais assim. Forte quando precisa e frágil quando está no meio do meu abraço. Bonita sempre. Amiga em todas as horas. Amante quando me arrepia inteiro. Carinhosa, preocupada, responsável. Criativa, inteligente [e nem adianta me dizer que não], carretel de quando em vez... Apaixonada , apaixonante, leal e envolvente.
Nossa. Eu tenho tantos, tantos nomes para te chamar. Mas entre todos, eu prefiro também te chamar de amor.
E te dando o nome de um sentimento – o maior deles – eu espero dizer, pelo menos um pouco, o que você provoca dentro de mim.
Na mala, seis espadas
Entre as lâminas afiadas essa é a hora de não cortar. É a hora de não vazar o [próprio] sangue em crime passional. É a hora de não gritar, não virar tudo, não quebrar as coisas e não fugir depressa, feito louco.
Agora é hora de embalar, calmamente, cada pertence. É hora do olhar demorado – e já sem mágoa – para tudo que se optou deixar. É hora de botar a melhor capa e entrar no barco já sem pensar na volta, levando o essencial apenas aos olhos.
É hora de deixar alguém conduzir enquanto você atira o coração no rio e segue só razão pelo resto do caminho, respirando fundo, sentindo bem o ar. É hora de aplicar anestesia na alma e entorpecer a vida a ponto de deixá-la [apenas] indolor.
É hora de testar a própria insensibilidade e de fazer do coração tripas. Quem sabe não nasce um novo.
terça-feira, 22 de novembro de 2011
quinta-feira, 17 de novembro de 2011
Salva-me dela!
Eu hoje pari Virgínia. Não, não pari. Abortei.
Sim, eu hoje abortei Virgínia. E, meu Deus, que aberração mais deformada. O artista dá a luz àquilo que cria. E foi com horror que eu vi brotar essa menina. Nenhum outro escrito fluiu com a mesma independência que ela. Nenhum me dominou tão inteiro. Nem quando falo de mim, consigo ser tão sufocado pelas letras.
Virgínia saiu de minha cabeça rasgando-a, como Atenas fez com Zeus. Ela me apavora. Começou como um conto simples, fácil, de história quase zombeteira. E de repente aquela intensidade. De repente aquela certeza de que eu mesmo não poderei ler o que escrevi. Não sem choque. Não sem náusea. Não sem pavor. Pavor do que nasceu de mim. Ou do que saiu de mim, como sai um verme expelido da nossa carne.
Antes de uma dúzia de folhas completas ela não me largou. E quando me largou, deixou arranhões no braço, dores na cabeça e uma ânsia de vomitar no mundo. Virgínia me apavora. Antes meus personagens também foram assim, abortados, eu disse. Mentira. Agora que me veio Virgínia, vejo que todos os outros eram anjos ternamente nascidos.
Virgínia me choca tanto porque é humana. Sua crueza nada tem de sobrenatural ou fantástico. Nada que pudesse me consolar. Nada que pudesse me dar indícios de ficção. A Virgínia que escrevo tem a crueldade de coisa humana, que cheira à carne.
Queria publicar ela inteira aqui. Não sem advertência. Já ensaiava dizer: Não leiam. O conto é longo e não vale o olho. Queria dizer que eu mesmo não o revisei por temê-lo. Assim eu tentaria fazer desistir aqueles dois ou três que, vendo o tamanho, ousariam começar. Eu queria expor ela para o mundo e assim ela não seria mais só minha. (Ou eu é que não seria mais dela? Eu queria jogar Virgínia nos outros como quem esconde, em um bolo de maçã, a mais funesta maldição? Queria eu passar a você o que senti, como forma de purgar o que fiz? Como forma de diminuir minha culpa por tê-la nascido?)
Não sei. Escrevo sobre ela agora, como jeito de também tomar distância, de me lembrar que ela é só oito letras, que eu a fiz com palavras, que eu a posso esquecer e que eu a posso matar com um punhal de letras.
Mas Virgínia não morreria sem luta feroz. Sem mordida. Sem me arrancar sangue do rosto. E ela gostaria disso. Ou eu é que gostaria? Virgínia me mortifica porque temo encontrar na menina qualquer coisa minha. E eu lhe dei minhas coisas, traços meus, quando ela ainda não era monstro. Quando ela ainda não havia pulado o muro e entrado no mato.
O que eu fiz de Virgínia? O que Virgínia fez de mim?
Na minha tela ela descansa. Ela espera. Ansiosa, eu sei. Os outros morrem, os outros se limitam ao papel, os outros eu controlo. Virgínia não. Ela é demônio que me possuiu e que eu não sei exorcizar. Ela me faz um mal que eu mesmo não posso explicar racionalmente. É novo. Isso é novo. Não é mais arte. É bruxaria, Virgínia!
Ela não me deixará. E eu não a deixarei. Ela precisa pagar. Mas é mais forte que eu. Posso vê-la. Na porta da casa que lhe fiz. Os olhos verdes que lhe dei. Os cabelos já sujos. As sapatilhas recém lavadas. A boca fina de sorriso mau, como que a dizer “Vem! Vem brincar!” só pra depois gargalhar. As sardas finas. O corpo escorado no umbral. A torneira do tanque ainda pingando. O pano sujo no chão ao seu lado. A cara de quem sabe que me domina...
Socorro. Sufocação.
Ela espera por mim. Espera por mais. Espera pra existir mais, pra completar sua história. Para ir até o fim. E ela nem me deixa colocá-la aqui. Não me dá essa liberdade. Não me permite a ousadia de me desfazer dela. Virgínia quer o fim. E Virgínia sempre tem o que quer.
segunda-feira, 14 de novembro de 2011
Lame Love
O primeiro clique pegou teu rosto. O segundo teu corpo. O terceiro teu umbigo. No meu quarto, tuas calças no chão. Outro drinque, por favor.
Qualquer música toca tudo com uma batida que diz "Have I lost my soul, Have I lost myself. I used to be such a romantic, I used to be a good girl". Canto junto, mexendo os lábios com lentidão, passando os dedos pelo teu peito. Tu me perguntas do que fala a música. De amor. Minto.
Sempre menti que era de amor.
Tu fumas outro cigarro. E eu não gosto que fumem aqui. Já não importa. É só mais um pouco de ti que ficará impregnado nas minhas cobertas, nas minhas cortinas e no meu cabelo. Só. Quando tu fores embora. Vais ir logo, por falar nisso? Tenho mais o que fazer.
Revelar as fotos, terminar minha música, editar o vídeo que estou devendo desde setembro. Bebo mais alguma coisa. Gole fundo. Sufoco. Mas pelo menos o gelo faz escorregar teu gosto pra mais fundo de mim. Para lá onde não incomoda mais a aspereza das tuas mãos, por exemplo.
A música acaba e a coloco de novo. Tu me perguntas se gosto. Não. Minto. Minha pele está suada. Eu queria um banho. E tanto por fazer. Vocês poderiam pelo menos ter a gentileza de ir embora depois? E eu que já odeio as novelas românticas.
As mãos no teu corpo, enfeitiçando. Não para tê-lo mais. Para que te vás, de uma vez. Como os cachorros e os corvos que já se recolhem lá fora. Anoitece, meu Deus, custa me devolver a solidão?
Mas a tua [solidão] é maior que a minha. E gulosa. Pensas que cada carinho já é saudade. Não é. É nojo. De mim. Por me ter tanto nojo é que me entrego a ti. Não é amor, meu bem, é castigo. É autoflagelo.
Finalmente tu pareces lembrar que existe outra vida, longe da minha. Ergue as calças do chão. Pergunta, distraidamente, sobre os cliques. Respondo que devem ter ficado alguns bons. Minto. De novo. É hábito.
É hálito. Colocas de novo tua boca suja na minha. Sinto gosto de cinzas. Mas faz parte da redenção. Mas faz parte do meu castigo por algum dia eu ter acreditado.
Em outro tipo de amor.
Ballerina derramada
Outro dia você não veio. E gastei por nada a fita das sapatilhas azuis. Gastei à toa o pulo ensaiado no ar. A maquiagem bonita, até o batom, tudo em vão.
O perfume que estava na última gota. O cabelo arrumado assim, amarrado só pra você ver. E nada. Em nenhuma cadeira você esteve. Meus rodopios, meus floreios e bordados. A espera toda e o brilho do olho, tudo perdido no ar. A luz bem acesa do palco e do sorriso. Foi só pra você, meu amor. Desperdício.
Os versos bonitos que ensaie pra cantar. O violão que aprendi a dedilhar. Cada compasso da dança era teu. E nada. A rosa que colhi bem madura e coloquei entre os seios, perfumada, exuberante e rubra a rosa. Até amanhã está morta. Amanhã você vem?
O gliter derramado no cabelo, a lágrima pintada no olho, as meias coladas nas pernas. Eram pra ti,meu bem. A música escolhida no disco, o champanhe gelado no camarim. Os morangos escolhidos na feira e cobertos de creme amarelo. Tudo é para o lixo agora?
As fitas penduradas na sombrinha. A corda esticada até o fim. A pele limpa cheirando alecrim. O banho demorado de espuma colorida. Era, tudo, pra você. E outro dia você não veio. Decerto foi ensolarar outro lugar. E assim fez-se noite dentro de mim.
Noite entre rostos estranhos, que aplaudem e aplaudem o espetáculo que não é deles. Que é teu. Que é só teu. E que você não quis.
sábado, 12 de novembro de 2011
O menino deus
Para me inspirar eu preciso respirar. Fotografia, música, arte. Eu preciso colocar de volta no peito tudo que eu já senti. E então bater, bater, bater. Para que alguma coisa de dentro possa jorrar. Às vezes sangue. Às vezes sêmen. Às vezes nada.
E o nada banal é que me destrói. Quando eu tento e não consigo espargir palavras no papel. Escrever me dá significado. Mas isso eu já cansei de dizer.
Escrevo sobre sentimentos. Eu os materializo, acho, na falta de matéria desse papel digital. Escrevo não o que estou sentindo. Mas o que já senti. Eu me uso. Uso os restos do que ficou. Componho com sobras banquete.
O que escrevo não pertence a ninguém mais que o próprio escrever. O que me fascina não é mais fazer íntimo diário. Para isso tenho as agendas velhas de fecho. Hoje o que almejo é toda criação que se dá pela palavra.
O código posto a serviço de um homem para torná-lo não menos que Deus. O que me encanta é o criar das letras. A dança que vou regendo em compassos submarinos. Preposições de pés no alto, adjetivos de malha colada, verbos verbando lépidos enquanto as crases permanecem graves, na platéia.
Escrevo para me consumir e guardar. E também para que alguém possa encontrar eco nos muros que pinto. Escrevo porque em algum momento fui também ecoado. Por Clarice, por Caio, por Virgínia, por Ana, por Renato, por Katherine, por Sílvia, por Agenor, por Fernanda e por Clarissa.
Escrevo porque sou meu personagem. Minha vida eu dou aos outros. Escrevo com outra letra o que eu sinto por dentro. Aqui, só coloco para secar as máscaras que pinto.
São sentires fabricados. A menos que eu me exponha todo. De resto é arte de partes. Não faço espelho de tolos. Nem de prata. Nem de ouro.
Faço canção de ser cantada em outra boca. Como pela menina do palco que falou minhas palavras. Deu ar ao que era meu sopro [de vida].
Não escrevo para que me tomem. E quem não quer me ler, que feche os olhos. Tantos fecham, meu Deus, e já não reclamo mais. Também isso aprendi. O texto chega aonde dele for preciso. Nunca além. Não almejo mais grandes oblações. Quero canto quieto. Porque toda palavra que viaja, se perde.
Não me cobrem, então, realidade, referência ou direitos de imagem se usei alguém. Escrever é não ter compromisso. Ser omisso com a ética e com qualquer decência cruel. Tudo em nome do seu próprio fazer. Tudo em nome de uma arte que em dois segundos pode se tornar de ninguém. Ou de Lispector. Ou de Jabor. Ou de uma menina paraibana que viu e gostou e achou que era dela.
Sim, é pelos outros que vamos. Traço por traço. Desde os cadernos da primeira série. Compondo e desfazendo e repetindo sem parar o abecedário. Tudo para um dia firmar a glória de ser espancado. Pela máquina de escrever. É para os outros que nos doamos, nos reviramos, nos destroçamos e cortamos tudo um pedaços bonitos de se verem.
É pelos outros que cometemos o crime de expor até a vida que é alheia e que nos foi tocada. Mas o texto, depois de saído, não é mais do outro. Como não é meu. Ele é de si. Como o homem deve ser do homem, depois de feito o pecado da maçã. Como o Deus deve ser do Deus, sem que isso seja questionado aqui.
O texto é tudo. E todo resto é vazio.
Fim
Tão Alto
Feche as janelas, apague o dia dentro de casa. Deixe só a luz que consegue passar pelas janelas marrons. A luz vermelha, vinda em raios pelas frestas, iluminando a dança saxofônica da poeira.
Deite no chão. Esqueça de tudo mais. Pense só no assoalho tocando cada ponto teu, se abrindo para melhor conter teu corpo. Feito mãe. Deixe qualquer som te levar. Qualquer som em uma língua que você desconheça. Que não te convide a pensar. A concordar. A sentir, sentir com a razão.
Deixe o coração mergulhado na poeira debaixo dos móveis. Você não precisa mais dele. Não desde que eu me fui. Estenda as mãos. Ou não: passe-as pelo corpo, assim. No ritmo sentido da música. Dos gritos que gritam pela tua alma. Da música que tem tua voz, ainda que distante, ainda que incompleta e incompreendida. Deixe-se.
Abandone-se em mim.
Em mim que te pedi a paz de não existir. A paz de não te ver. A paz de não reconhecer teus olhos no fundo das bacias com água. Eu te pedi paz. Agora venho, sensual, sussurrar que esfregue teu corpo no chão. Que deite na minha voz rouca e se afogue de mim.
Eu sei. Contraditório. Eu sou. Se deixe levar, apenas, então. As roupas. Os copos quebrados. Você sobre os cacos, amor, porque tudo que voa alto e é bonito na queda. E colorido, meu bem.
Estou morto porque quis estar. Falecido e enterrado no cemitério que agora tem sol demais. Estou morto lá. E estou morto aqui, dentro de ti. Porque eu pedi assim. Eu quis assim. Eu implorei. Bem assim.
E agora que estou morto percebi a paz de deserto lunar. E não a quero. Amor. Então voltei, pra dentro de ti. Pra te dizer assim: mergulhe no chão. Afogue-se na poeira, nos objetos e dejetos e nos pêlos negros do gato branco.
Afogue-se porque agora eu não quero paz. Me enganei. Quero tuas orações antes de dormir. Tuas ladainhas ensaiadas, tuas rosas cortadas, tua boca decorada de batom. Quero tudo e nada toco. Morto. Eu queria descansar pra não te deixar descansar. Pra não ver outra boca comer a tua. Outros olhos lamberem os teus. Outra alma te engolir o corpo inteiro. Não!
E eu aqui? E a solidão minha? E a cruz sobre meu túmulo que só faz sombra no túmulo alheio? Não. Eu quero de volta. Você. Eu quero. Eu preciso para não te enlouquecer. E como faz para tudo voltar. Para meus cortes fecharem, meu sangue escorrer de volta pra dentro, a faca nunca ter entrado naquele jardim. Enquanto o sol se punha. Minha boca. Teu pescoço. Nunca mais?
Socorro. Meu amor. Salva-me do nada. Do vazio. Da minha velhice de violeta murcha. De trigo que apodreceu sem ser colhido. Por Deus, eu só quero ser teu pão. Eu que te neguei farelos. Como faço agora? De onde volto? Porque estou nos raios de luz que voam alto e pra longe. Estou congelado no ar dos salões. Onde ninguém pode me tocar como você um dia tocou.
Volto como? Não volto, amor? Diz que ainda me quer. Que ainda existo para você. Que não preciso da minha paz maldita. Diz que me espera no banco de tábuas claras. Diz que me quer mostrar a tatuagem que fez para mim. Diz que o sol ainda não se pôs naquele dia. Naquele jardim. Diz que vai me entregar as cartas do teu futuro. Diz que as pedras ainda esperam por nós. Que as folhas voltarão a cair num outono irreal. Diz amor. Diz que eu volto. Diz que eu estarei lá, esperando. Diz que voaremos juntos enquanto ouvirei tuas palavras bonitas. Diz que não foi em vão a tinta roxa das cartas não escritas. Diz que valerá quando estivermos juntos. Diz que estaremos. Por favor, antes que a música acabe de novo e eu volte para. "nunca mais" Lá.
_______________________
Escrito ao som de The Gift.
_______________________
Escrito ao som de The Gift.
domingo, 6 de novembro de 2011
segunda-feira, 31 de outubro de 2011
Passo leve em Passo Fundo
O pânico de ser encontrado.
Não consigo estar aqui em Passo Fundo sem experimentar essas duas sensações, alternadamente. Nessa cidade que é minha, ando com o olhar perdido nos plátanos, sabendo que tudo aqui me pertence. Sou mais leve caminhando nessas ruas cheias, esbarrando em pessoas com sacolas grandes, sentando no banco de uma das praças e pegando um papel para simplesmente escrever. Aqui nada me é estranho. Porque aqui eu pertenço. Finalmente.
Desde criança é assim. Entrar em Passo Fundo, ver os prédios, as construções, as sinaleiras e a agitação me é sempre reconfortante e familiar. Não importa que eu nunca tenha morado aqui. É minha casa.
Na escola eu compreendia o porquê de ser diferente. Enquanto todos os outros tinham nascido ali mesmo, nas profundesas vermelhas da Cratera, eu tinha vindo. Vindo de Passo Fundo. Não era em vão que eu jamais me encaixaria.
De pequeno, tão logo cruzássemos o trevo eu perguntava: Pai, foi aqui que eu nasci, né? Foi. A mesma resposta que me soava doce. Soava como um motivo, como uma explicação, como um atestado de que eu pertencia a algum lugar. De que eu brotara ali e de que, portanto, alguma raíz decerto havia ficado.
Aqui, em Passo Fundo, nunca me invadiu a insanidade de dizer "quero ir pra casa". Insanidade porque digo isso em Cratera, até mesmo no meu quarto. De repente penso assim e rio de mim. Que bobo. Pois se estou no meu quarto. A alma, que sussurrou isso, no entanto, sabe... Em Cratera eu jamais estarei em casa.
Acompanhando sempre essa leveza de ar, essa graça boba e descomplicada de ser parte do chão em que se pisa me vem, de súbito, o pânico.
Em Passo Fundo eu tenho medo do encontro.
Ou não do encontro, mas do reconhecimento. O medo vem quando alguém me olha por tempo demais. Ou quando franze os olhos, estreita o rosto e faz cara de "mas de algum lugar eu te conheço". Fujo. Desenfreado fujo.
Eu nasci aqui e fui adotado ainda pequeno. Não sei nada de minha família biológica. Por isso o medo. De pequeno, me fascinava pensar que em qualquer esquina podia estar uma irmã minha, um irmão, um primo, um pai. Divertia-me o enigma.
Hoje me apavora. Apavora que num desses olhares eu possa ler na cara do outro escrito assim: "Mas esse homem... ele é a cara do fulano. Como pode?" Ou então: "Mas é tão parecido com beltrano... Podia até ser filho."
Então estremeço quando me olham por tempo demais. E disparo feito gato arisco. Esqueço plátanos, bancos e praças. Fujo até a próxima esquina, que é quando consigo voltar a respirar, ainda que ofegante.
Não sei qual o meu medo. Nem sequer o justifico. Só tremo todo, como treme quem não quer mais ser encontrado. Quem se satisfez em estar perdido. Como deveria fazer um cãozinho jogado do carro. Mas o cãozinho não faz, o orgulho é contra sua natureza canina.
Mas a minha é felina. E meu orgulho é ferrenho. E hoje mesmo me dei conta de que meu gato tatuado também nasceu aqui. Um dia antes do meu aniversário - ou no dia do meu aniversário [?]. Pertencemos os dois a esse lugar. E aos mistérios do meu pertencimento obscuro. Sim, porque pertenço de graça, como se decifrar minha esfinge a matasse. Como se descobrir de onde eu realmente vim me quebrasse inteiro.
Por isso o medo?
Não. Não sei.
Sei que uma senhora já me olha há tempo demais. Hora de escapar de novo, e bem rápido, antes que ela seja minha mãe.
sábado, 22 de outubro de 2011
Silenciosa inveja
Desde o primeiro momento eu lhe invejei aquelas palavras. As palavras. Elas pra mim eram só som cuspido no ar. Ou, se desse sorte, tinta preta na página em branco. Pra ele não. Pra ele as palavras, essas putas, dançavam no ar. Ele podia pegá-las, domá-las, masturbar-se com as palavras aquelas. Putas, elas preferiam a ele.
Compensação. Quando lhe tiraram uma coisa, deram-lhe outra. Mas eu é que não adimitia. Minhas palavras eram tão pobres perto das dele. Eu queria aquelas pra mim, não essas. Eu queria domá-las e fazer-lhes qualquer coisa menos do que comê-las.
Elas ali, dançando no ar, pousando e partido feito pombas ou bailarinas brancas. As palavras se materializando naqueles dedos compridos de pianista, as palavras que ele comia com aquela boca bem grossa. Palavras que ele enfiava pelo nariz comprido. Overdose de palavras, meu Deus!
E eu ali, expulsando uma bile silenciosa entre as cadeiras do espetáculo, já alheio ao que me diziam, às palavras pobres que me mandavam. Eu queria aquelas, eu cobiçava eram as palavras do menino mudo.
terça-feira, 18 de outubro de 2011
Para mim.
Para Ághata.
Concordo com Clarice. Pertencer é a mais premente necessidade humana. Mas como você pode pertencer a alguém sem se entregar, sem se doar inteiro ao outro? Não pode.
Você não pode pertencer a alguém e continuar seguro, continuar imune, continuar por sua própria conta. É como na matemática: ou pertence, ou não pertence. Há a vontade imensa de se sentir amado, isso é natural. Mas enquanto você não aprender que, para isso, é preciso se deixar amar, não vai funcionar.
E se deixar amar tem preço. O preço é expor sua fragilidade, sua bondade, sua fraqueza imensa. O preço é arriscar machucar-se pelo incerto, pelo sonho, pelo pulo de trapezista sem rede. O preço, meu bem, é se deixar inteiro na mão de alguém. E disso poucos tem coragem.
Por isso o vazio da vida, por isso as festas, as bebedeiras, a futilidade cotidiana a que nos expomos. Por vontade e medo. Vontade de pertencer e medo de se doar. Enquanto tudo for assim, ainda haverá lágrima no escuro da noite. Ainda haverá solidão no fundo da alma. Ainda haverá angústia assombrando no peito.
segunda-feira, 17 de outubro de 2011
Só de uma canção
Anoitecia e a brisa de chuva nos lambia os corpos nus. Despertamos lentos, na tua cama de borboletas azuis. A música tocava ao lado, embora parecesse vir de longe. Lembro de ti, teus olhos nos meus, teus braços envolta de mim, tua boca dedicando a mim aquela canção.
Adoro essa sua cara de sono
Nunca durmo antes de ti. Sempre espero; meu corpo encaixado no teu, minhas mãos alisando teus cabelos. Se acaso tens insônia, minha voz te canta bem baixinho "Dust in the wind, all we are is dust in the wind...". E teu corpo todo se relaxa, tua respiração se acalma, teu sono vem.
E é sempre do teu lado que eu acordo. E só tu podes ver meus olhos pequenos de mandarim, minha boca que amanhece sempre inchada, meu cabelo bagunçado e meu sorriso meio tonto.
E se durmo depois, é depois também que acordo. Acordo e, às vezes, eu te flagro olhando pra mim. Tu ali, quietinha, sabe-se lá há quanto tempo, só me admirando, com os olhos cheios de estrelas.
E o timbre da sua voz
É só no teu ouvido que ouso ronronar, usar minhas vozes roucas e baixas. Sim, eu conheço a intensidade exata que faz teu pescoço arrepiar. É só do teu lado que eu me arrisco a cantar.
que fica me dizendo coisas tão malucas
É só tu que podes ouvir minhas melhores loucuras. E rir delas. Ou compenetrar-se nas minhas besteiras sobre deuses gregos, dissecações de Dodecaedros e dissertações de Clarice Lispector. Eu posso te dizer o que eu quiser. E tu ouves, plena de atenção e fascinação. Posso te falar do sentido da vida de uma mosca que passa. Das minhas cicatrizes e crises e regras de case. Dos filmes poloneses do século passado ou dos franceses e italianos desencavados.
Pra ti eu posso declamar poemas à meia-noite. Expor minhas teorias sobre minha insônia, que depende de domingos, coca-cola e luas cheias. Posso falar de Eros e Psiquê. Pra ti eu posso contar as piadas mais sujas ou os trechos piores dos meus livros mais densos. Pra ti eu posso apontar os desenhos nas nuvens. Explicar conceitos de abertura, exposição, diafragma, foco e zoom. Só contigo eu posso dizer besteira e, ao mesmo tempo, filosofar. Só para ti eu posso perguntar o que me angustia, como a utilidade do céu, por exemplo. É só do teu lado que eu me arrisco a falar tudo.
e que quase me mata de rir
Só tu viste minhas caretas recheadas de lábios virados e piscadas bem tortas, que no segundo seguinte eu troco por minha cara de sério e te deixo rindo por boba. Só pra ti eu faço meus comentários mais sarcásticos. E tudo pra ouvir outra vez o teu riso. Só tu conheces, aliás, meu riso. Seja falso, forçado, inevitável ou bêbado. Só tu sabes o que me acontece quando bebo. É tu quem eu agarro e faço cócegas e aperto e mordo onde puder. Eu amo te fazer rir, especialmente quando tu precisas ficar séria. E é também, meu amor, só do teu lado que eu me arrisco a sorrir.
quando tenta me convencer
que eu só fiquei aquiporque nos dóis somos iguais
Tento. Tento fazer com que tu vejas o que eu vejo. Tua inteligência, tua criatividade, teu talento. Eu anoto tuas melhores frases, meu amor. Todas cunhadas com uma sagacidade e uma sutileza que me encantam. Consigo te admirar tanto e, no entanto, não consigo te demonstrar isso sempre. Não consigo te convencer do quão maravilhosa tu podes ser. Não somos iguais, meu amor. Tu sempre serás melhor do que eu. É só do teu lado que eu me arrisco a tentar ser como te vejo.
até parece que você já tinha
o meu manual de instruçõesporque você decifra os meus sonhos
porque você sabe o que eu gosto
e porque quando você me abraça
o mundo gira devagar
Eu conheço todo teu corpo e o efeito de cada toque. Consigo te percorrer inteira, pele, mente, alma. Tenho, como tu disseste, olhos de te ver por dentro. Por isso adivinho o que tu pensas antes que tu o fales. E sempre te deixo tonta com isso. Sei dos teus desejos, dos teus quereres, das tuas coisas mais simples às mais complexas. E entendo. Só de olhar.
Da mesma forma, só tu conhece tudo de mim. O número do meu sapato, o nome dos meus perfumes, o castanho dos meus olhos, o mapa de pintas do meu corpo, a bagunça do meu quarto, o gosto dos meus molhos, o tamanho dos meus sonhos, o choro das minhas músicas, o nome secreto nos meus textos, a marca do meu shampoo, o meu medo por quero-queros, a minha obsessão pela leitura, o meu cheiro no teu travesseiro. É só para ti que deixo meu manual também.
E o tempo é só meu
e ninguém registra a cena de repente vira um filme
todo em câmera lenta
e eu acho que eu gosto mesmo de você
bem do jeito que você é.
Tudo isso, tudo para dizer que importante és tu. Não importa quantos gostem de uma fotografia minha. É na tua casa que foi tirada. Não importa quantos comentem em um texto meu. Foi enquanto tu dormias na minha cama que ele foi escrito. Não importa quantos sorrisos me dêem na rua. É a tua boca que a minha beija.
Entende?
Tu te preocupas demais com o tão pouco meu que dou aos outros, quando na verdade me tens de um jeito que jamais outro alguém terá.
São tuas as fotos pela minha casa. É o teu nome no topo da agenda do meu celular. São teus os cartões na gaveta da cômoda. É teu o nome no topo da poesia que te dediquei. É tu que estás ao meu lado, avaliando textos que jamais serão publicados, palpitando nas cores das minhas fotos mais bobas. É tu que me aguentas clicando teias de aranha e xícaras velhas. É tu que corres na rua comigo a tentar flagrar passarinhos. É contigo que eu rolo no chão ou na cama ou na área de casa. É teu o corpo que abraço. É tua a pele que beijo. É teu o cheiro que eu gosto de sentir sempre aqui. É por ti que pico a cebola sempre tão miudinha. É por ti que tomo conta de mim. É pra ti que guardo meu melhor, meu amor. Só pra ti.
quinta-feira, 13 de outubro de 2011
Sou todo feito de cacos e demolições, graçazadeus.
"Um dia, perguntou-me por que andava eu tão diferente. Respondi-lhe risonha, empregando os termos de Hegel, ouvidos pela boca do meu examinador. Disse-lhe que o primitivo equilíbrio tinha-se rompido e formara-se um novo, com outra base."
{Clarice Lispector}
Romper suas estruturas e fundações sempre é uma experiência interessante. Interessante, não indolor. Algumas vezes tudo que você construiu como "você" se desmancha, vira pó e escombros. Às vezes só sacode, como diante de um terremoto forte.
De qualquer modo, pó ou não, depois você percebe que tem diante de si uma base nova. Melhor, mais sólida, com erros de cálculos evitados. Você percebe que pode restaurar o "você" a partir daquilo, que pode reerguer alguém melhor, mais completo, mais feliz. Há outro base toda construída para fornecer o equilíbrio perdido. E, superados os primeiros traumas da demolição, você se reergue, com outros materiais, com outras cores, com outras vidas dentro de si.
E depois, olhando para o "você" novo, só o que pode vir é a satisfação. Ou, talvez, o arrependimento de não ter se destruído antes, só para poder se construir melhor.
quarta-feira, 12 de outubro de 2011
segunda-feira, 10 de outubro de 2011
Unhas vermelhas
Ághata domina a casa. Se tranco a porta, ela tenta a janela. Se tranco a janela, seus gritos a derrubam. Por Deus, Ághata me invade inteiro!
Suas unhas longas força passagem pelos meus olhos, fincando feito agulha até despejar deles o mel que há. Suas garras de dedos finos escancaram minha boca. Pra dentro de mim ela procura passagem.
Passagem não há. Eu sangro e ela não entende que o sangue nas suas mãos é meu.
A cada lasca que ela arranca do muro que me cerca, eu envergo nova muralha. Mais pedras, mais cimento, mais areia, mais massa, mais depressa! Ela não entende que quanto mais me sufoca e mais se força em mim, mais eu escorrego pra longe, mais eu me refugio na escuridão que resta.
Mas ela vem. Vem de lança em punho, vem de azul letal nos olhos, vem para tentar me abrir e me enxergar por dentro. Vem em vão. Ághata não entende que em mim não há mais caminho pra ela. Não assim. Não quando ela investe em venenos tão fortes, ácidos tão corrosivos e facas tão afiadas. Não com tanta força.
Ninguém entende, eu acho. Ninguém me aceita sem pertencer. E eu não quero pertencer. Sou egoísta. Eu me pertenço inteiro. E aceitar isso é a senha para a ponte elevadiça destravar. Destravar, não abrir.
É preciso mais paciência.
Não é uma questão de me possuir. Entende?
Não! Ághata, você jamais vai entender, porque é passional demais pra isso. Quem tenta me possuir me perde, meu amor. É preciso se deixar possuir. É preciso que eu te queira, do contrário, caminho não há.
E como vou te querer recheada de espinhos? Como vou te querer coberta de escarras? Como vou te querer de armas na mão? Não vou! E enquanto eu não quiser, você não entra, meu bem. Você não chega perto, você não conquista o direito ao afago, ao riso e ao beijo.
Você me quer domar pela força. E pela força é que eu não me entrego, sou mais forte que isso. Sou mais forte do que você. Sou mais forte do que eu!*
____________________
A última frase de Clarice Lispector, na nota de Uma aprendizagem - ou livro dos prazeres.
____________________
A última frase de Clarice Lispector, na nota de Uma aprendizagem - ou livro dos prazeres.
sexta-feira, 7 de outubro de 2011
"Eu li na Zero"
Para amigos além de uma fronteira*
De Tomas Tranströmer (poeta vencedor do Nobel de Literatura)
I
Fui tão econômico em minha carta. Mas o que não pude escrever
Inflou e inflou como um antigo zepelim
E se perdeu, por fim, no céu noturno
II
Agora o censor está com a carta. Acende a lâmpada
Na luminosidade voam minhas palavras, como macacos na jaula
se sacodem, se aquietam, mostram os dentes!
III
Leiam nas entrelinhas.
Nos encontraremos em 200 anos
Quando caírem no esquecimento os microfones de hotel
e poderemos dormir feito moluscos.
* traduzido da versão castelhana por Roberto Mascaró
Sagitário
De Oscar Quiroga (no horóscopo do meu signo)
As palavras corretas que não são ditas quando necessárias, o tempo as transforma em maldições. São palavras corretas, porém mal ditas. O momento deve ser apropriado para as palavras importantes serem proferidas.
Tudo no jornal Zero Hora de hoje, 07 de outubro.
segunda-feira, 3 de outubro de 2011
Partir
Ainda do aeroporto, enquanto os outros nos olham, eu digo minhas últimas palavras pra você. E elas são estranhamento doces. Também é doce o que você me diz.
Ironia: mergulhados no ácido, falamos caramelos.
E de minha parte, mesmo que doce, não há volta possível. Há a dor que se acalma a cada dia. Há o amor que deixamos descansar e mofar no fundo da gaveta do meio. Há os traços do rosto que vamos esquecendo. Há o perfume da pele que já não conseguimos mais sentir. Há a voz que começamos a confundir com outras vozes. Há as músicas que voltam a ser apenas belas músicas. Há os sonhos que vamos apagando, desfazendo, descosturando, bem aos poucos. Há as coisas que o outro disse e que vamos embaralhando... embaçando... até perdê-las.
Não há dor definitiva. Há o tempo e sua corrosão. Há o inferno daqui e há as outras pessoas que chegarão um dia.
Não te disse tudo isso, mas vi. Vi você se apagando de mim. Vi eu me apagando em você.
Não chorei. Fui firme, embora quem nos visse ali, no saguão, desolados, compreendesse qualquer coisa de dor nos meus olhos de mel. Você ainda tinha o quê dizer. Não disse. Eu pedi assim:
— Agora é melhor você ir. Você está se atrasando e se ficar mais um minuto, do jeito que as coisas estão, eu vou acabar dizendo “Eu te amo”. E não é isso que eu quero. Então... Até mais.
Menti.
Não no dizer que eu amava. Amo, louca e desesperadamente amo, para minha própria maldição. Menti quando disse o "até mais".
Porque, meu amor, nós não nos veremos.
Nunca mais.
"Gosto muito de você, leãozinho..."
Meu pai sempre foi de economizar, especialmente com as "porcarias" para mim. Mas lembro de uma tarde em que fui junto com seu caminhão, cidade estranha, de nome há muito esquecido... Em uma loja de beira de estrada, havia um leão de pelúcia. Um Simba. Era bonito.
Bonito diz pouco. Era lindo.
Tomei a ousadia de pedir, esperando a recusa. Se minha mãe estivesse junto, eu conseguiria facilmente, imperador que era dela. Do meu pai eu esperava uma franzida de testa, uma exclamação de como era caro - e era, realmente - , de como os tempos estavam difíceis... De tudo eu esperava. E de todas as alternativas, só o que eu não esperava era aquele leão nos meus braços.
Meu pai me olhou, olhou para o bichinho. E de alguma forma ele soube minha necessidade tê-lo. Necessidade que mesmo eu não saberia explicar. Sabia era colocá-la nos olhos. Não houve protestos. De carinho imenso, ele pediu o leão sem nem perguntar pelo preço. Naquele dia eu soube que ele me amava, mesmo que não demonstrasse isso sempre.
Da infância toda e da minha voracidade em descobrir a vida que havia por dentro - inclusive do que não tinha vida - o leão sobreviveu.
Enquanto escrevo, eu olho para ele. Ele me olha de volta e sorri. Então eu entendo. Se naquele tempo meu pai, tão defeituoso herói, era imenso a ponto de me amar, isso significa que eu também posso; se tentar bastante.
sábado, 1 de outubro de 2011
Indigno

Submergidas as causas, reparto convosco as consequências.
Eu me descobri, de repente, indigno.
Nós nos esforçamos a vida toda para construirmos uma imagem nossa a ser transmitida e propagada entre as outras pessoas. Nossas maneiras, nossos hábitos, nossas roupas, nossas fotos publicadas - ou excluídas, nossas citações, nossos textos, nossas frases e desculpas. Tudo é construído tendo em vista uma imagem. Podemos repetir e até ficarmos loucos - ou roucos - de que não nos importamos com o que os outros pensam. E, fazendo isso, acabamos de construir uma imagem.
Enfim, essas imagens construídas funcionam relativamente bem. Cunhamos nossa máscara e deixamos que todos a vejam. Por que fazemos isso? Porque queremos ser admirados. Tão admirados a ponto de sermos dignos do amor alheio. E tudo no mundo só quer ser amado, como lembra bem A cor púrpura.
Até aqui tudo ocorre funcionalmente bem. Sua imagem se constrói ou se deforma de acordo com o seu autocontrole. Você decide o que vai deixar as outras pessoas verem de você e o que precisa - ou merece - ser bem escondido.
Mas de repente, num momento de solidão em uma cidade estranha, você se desloca todo do eixo. É que encontrou o autorretrato.
A imagem passada para os outros pode ser moldada, manipulada, construída, fingida, pintada. Mas e a sua autoimagem? Essa não. Você é incapaz de enganar a si mesmo. A hora do espelho sempre chega e aí a verdade nos implode.
Qual imagem você tem de si? O que você julga merecer daquilo que lhe é dado?
Eu me apavorei quando descobri o quão baixo eu me considero. O quão indigno de tudo, inclusive do salvador amor alheio. Eu percebi que simplesmente não sei levar a sério qualquer elogio. Descobri que deprecio tudo que faço, como se nada fosse bom ou valioso o suficiente.
Minhas poesias eu chamo de ruins, não aceito que qualquer olhar seja para mim, descarto tudo que me apontam como qualidade, acho risível o que os outros chamam de talento, penso que minhas fotografias são só imagens feias, que minhas letras são rascunhos borrados, que meu corpo é deformação e minha alma enganação. Eu me humilho, espezinho e destrato. Descobri com horror súbito que eu me odeio e me acho indigno.
Descobri que ajo como se em todo lugar minha presença fosse só incômodo ao bem estar alheio. Como se as conversas que me destinam fossem amolação demais ao interlocutor. Como se minhas coisas todas fossem bobagens a encher o dia, o ar e a paciência de quem as vê.
Meu Deus. Horror dos horrores. Encontrei com a imagem que eu mesmo fiz para mim. E ela mais monstruosa do que o retrato de Dorian Gray.
Meu lugar era aquele. E daí já me revelo como não queria, mas escrever é essa incapacidade de contenção também. Aquele bar sujo era como eu me via. Aquelas paredes imudas, aquelas prateleiras com merda de rato, aquelas garrafas cobertas de pó, aquele chão com manchas de vômito, aquela puta velha de unhas auzis roídas e cigarro no canto da boca servindo um pastel rançoso. Esse era eu por dentro. A porta quebrada do banheiro imundo, revelando as entranhas do esgoto explêndido. A cigana discutindo com o amante por causa de dinheiro. O velho gordo vertendo sebo e morte na mesa do canto. Tudo era eu. Era isso que eu me destinava. Era isso que eu me fazia mercer. Era a isso que eu me entregava com gosto. Compreendem?
Não. Também eu não compreendi até viver. E você, talvez, só vivendo porderá encontrar seu autorretrato. E poderá, então, maravilhar-se ou, como eu, chocar-se do mais puro horror.
A imagem toda. A manipulação fiel e habilidosa que eu fiz para os outros jamais serviu para mim. A mim ela não convenceu. Eu não fui capaz de comprar minhas próprias ilusões. Na hora de ver no espelho minha máscara de veludo escarlate, rubis e pedrarias, eu só fui capaz de olhar para meu rosto sujo, gorduroso e desossado. Choque.
Eu queria que ter constatado tudo isso me servisse de consolo. Como quem, ao quebrar a parede, finalmente encontra o vasamento e pode consertá-lo. Mas eu não sei consertar. Não sei o que fazer do horror que me foi dado. Minha imagem. Os olhos com os quais eu me vejo. Como trocá-los? Como convencê-los de que eu sou, sim, digno? De que eu mereço mais do que aquele bar? De que eu mereço o salão espelhado com garçom servindo à direita? De que eu mereço o vinho caro da uva mais bem pisada? De que eu mereço estar ali, falar e ser ouvido, fascinar e ser fascinado? De que eu mereço, por Deus, escrever e fotografar, fazer arte e chamá-la assim? De que eu mereço ter minha boca cheia beijada, meu cabelo afagado, minhas mãos presas por outras mãos?
Quando eu vou me convencer de que eu estou aqui? E de que se eu estou é porque alguma coisa de especial eu tenho? Qualquer coisa. Quando eu vou, finalmente, deixar de ver um desperdício e ver uma pessoa?
Quando eu vou, finalmente, olhar no espelho e enxergar o que você consegue ver?
Quando?
Que não demore. Que não demore porque eu já não sei por quanto tempo aguento.
terça-feira, 27 de setembro de 2011
Da cópia
Outro dia cunhei a seguinte frase: "Escrever é isso, no fim, encontro de dores. Da dor de quem lê, na dor de quem escreve". Nada tão inovador, nem muito diferente do que Pessoa já dizia na sua Autopsicografia, apesar disso, verdadeiro.
Eu me identifico com tantas dores alheias... Muitas delas escritas. Às vezes o outro consegue condensar tão bem o que sentimos, em palavras, que é como se elas tivessem saído de nós. Daí vem a vontade imensa de ter escrito aquilo, cada letra, porque não é de outra coisa que fala, senão de nós. Eu mesmo queria, por exemplo, ter escrito metade dos livros da Clarice Lispector. E quase todos os do Caio Fernando Abreu. Não escrevi.
Não escrevi, mas posso ler, posso me identificar, posso encaixar minhas dores nas deles e posso, sim, copiar. Copiar para guardar, para compartilhar, para dizer com as palavras deles como eu me sinto aqui.
O fundamental, porém, é o que se faz nessa cópia.
Em primeiro lugar, não posso jamais mudar um texto que não é meu. É como se, diante de uma pintura, eu decidisse pegar um pincel e adequar qualquer cor a outra que mais me agradasse. Não. Não é assim. Alguém sentiu suas dores, sentou, pensou, escreveu, releu, corrigiu, refez para que tudo se encaixasse desse ou daquele modo... Que direito eu tenho de mexer no que não é meu? Princípios fundamentais. Daqueles que se aprendem na educação infantil.
Em segundo lugar, é imprecindível dar a César o que é de César. Ou seja, o nome de quem escreveu aquele texto PRECISA aparecer ali. Apropriar-se do que não é seu - seja dinheiro, um objeto, um quadro, um texto - é sempre roubo. Não é porque são imateriais (e são mesmo?) as palavras que elas podem pertencer a qualquer um.
Magoa ver uma coisa sua, tão íntima - porque toda escrita minha é diário íntimo - servindo de palco ao agrado de qualquer um. Falo isso porque hoje vários textos meus estavam espalhados por aí, ao vento. E se eu perguntar a quem os copiou/roubou quem é a Ághata, por exemplo, de que falam os textos, eles não saberão. Para eles é um nome. Para mim não.
Entendem? Poucos compreendem a grandiosidade do que escondo ali, nos meus escritinhos pequenos. Meus códigos, meus traços, meus segredos. Coisas que para outros podem não fazer sentido algum, palavras e nomes que são enfeites alegóricos podem ser, em mim, o centro de tudo mais.
Não sou contra a cópia, muito pelo contrário. Eu copio os textos de que gosto. Mas não os altero e sempre dou crédito a quem os escreveu. É preciso entender que isso não desmerece ninguém. Muito pelo contrário. Colocar o nome de quem desenhou aquelas letras não só demonstra sua integridade e caráter, como também enaltece suas leituras. Culto não é aquele que "escreve" palavras bonitas plagiando o que é alheio. Culto é quem reconhece o valor dessas palavras e de quem as escreveu. Culto é aquele capaz de mostrar as leituras que têm e as fontes nas quais se inspira.
Perdão, enfim, pelo desabafo todo. Mas dói. Dói como doeria você ver uma coisa sua - e da qual você gosta muito -, sendo exibida nas mãos de outro. Eu só não queria cair no abismo de bloquear esse blog todo. Seleção, clique com botão direito e teclado com o seu Ctrl... Penso que certas coisas são mesmo desnecessárias. E no fundo, mesmo, nem que seja de bobo, eu acredito no melhor das pessoas. Acredito em quem copia e dá créditos. E acredito, acima de tudo, em quem corrige os próprios erros.
Valeu.
Paixão de Avalon
Olhos. Ele se resumia a dois grandes olhos vivos e arregalados. Sempre. Seus olhos eram, na verdade, dotados de uma divina gula por mundo, tudo ele queria que coubesse ali. Na casa nada se dava longe daquele par de olhos. De cada barulho, ele capturava por eles o motivo. Cada coisa nova era devidamente registrada. Feito uma coruja muito arrepiada e arregalada, o gato passava a vida a olhar as coisas.
Foi de repente.
De repente não o entendemos mais. Tinha os olhos sempre semi-cerrados, sonhadores e sedutores; felinos. Como se alguém lhe houvesse matado a curiosidade, sem ter matado o gato. Tudo se tornou insignificante. Teria ele comido o mundo por aqueles seus globos verde-amarelados? Teria saciado sua fome de ver, enfim? O comportamento também mudou. Ele, que sempre fora dado à hábitos quase caninos de brincadeiras e saltos, agora se mantinha lânguido, aéreo, pouco dado a qualquer realidade.
"Mas que doença tem esse gato?" Ághata seguia-o na esperança de diagnosticá-lo, como faz com tudo mais que lhe escapa. Até que um dia o flagrou. Estava metido em carinhos ternos com um abandonado gato siamês, ainda mirrado. O siamês fugiu, pulando o mesmo puro pelo qual entrara no pátio.
Ainda bobo e hipnotizado, Avalon demorou-se a perceber o que havia. Até se dar por segui-lo, o outro já ia longe. Tristeza. Dos olhos quase fechados vertia tristeza. Minutos depois apareceu neles a esperança. Ele voltaria. Os amores sempre voltam.
Plantou-se o Avalon, então, com todo seu porte de leão negro, a esperar pacientemente sobre o muro antigo. Cada farfalhar de folha, cada ciscada de passarinho, cada fruta caída do pé, era um susto. O coração disparava a todo ínfimo barulho: Era ele! Não, nunca era. Naquele dia o outro gato não voltou. E nem o Avalon desceu do muro.
Eu olhei e sorri. Entendia bem o que era aquela espera dos apaixonados. Eu me via refletido no gato. Lembrava bem de estar na janela alta, esperando. De me encher de esperança e alegria e glória a cada barulho equivocado. Benditas as esperas dos apaixonados. Benditos os que tem a quem esperar.
Depois Ághata sentenciou: "Tu viu teu gato? Coitado! Apaixonado por outro gato..." É. Avalon está mesmo apaixonado. A ele não importa que o outro seja também macho. Tampouco sua própria castração importa muito. Ele ama. Ama por. Ou ama apesar de. Na verdade, não importa. Nunca importa. Ele ama. Isso é tudo. Ama e é correspondido.
Desde então temos outro gato aqui, embora outro do mesmo. Nada mais daquele Avalon espoleta, curioso e quase cão. Agora temos um gato de passos trocados e leves, de olhos sempre sedutores, de pausas demoradas e observações sutis. Temos, enfim, um gato felino. Tão felino quanto se pode ser apaixonado.
Agora, todas as tardes, enquanto Ághata dorme e eu me deixo invadir pelo meu próprio infinito, um gato espera pelo outro encima do muro. E o outro vem, religioso. Entre os beijos e os trevos de três folhas só, passam pintados de sol trocando carícias e lambidas e afagos. Tudo enquanto ninguém os vê. Criaram seu próprio paraíso no jardim em que impera qualquer coisa de uma loucura de primavera.
Eu queria amansar o outro gato, caso seja mesmo abandonado. Dar-lhe inteiro ao meu Avalon. Mas talvez ele não gostasse disso. O proibido das flores tem muito mais razão de ser. Se fosse também meu o outro, seria menos dele. Entendem? Além disso, não haveria mais o milagre da espera, do sofrimento de cada barulho não feito, e menos ainda da glória de vê-lo chegar com seus olhos azuis.
Então deixo tudo assim. Deixo porque é primavera e porque sei que, por enquanto, há amor no meu jardim.
Assinar:
Postagens (Atom)